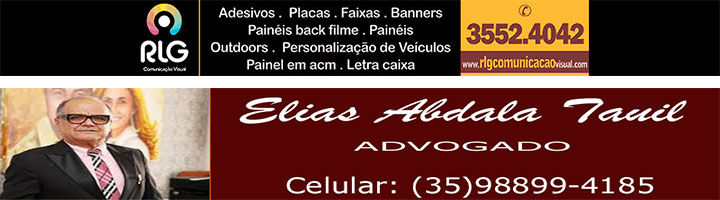Cotidianas
- Guaxupé
O VEREADOR, O DIREITO e as LEIS (03/05/2005), Dr Milton Biagioni Furquim
30 de maio de 2025
A vida humana se desenvolve dentro de um contexto social. Na verdade, os indivíduos mantêm, durante toda a sua vida, uma relação contínua de dependência e cooperação. Isso implica que a vida em sociedade é a forma natural de existência da espécie humana. Com isso em mente, é possível afirmar que toda comunidade ou associação possui uma razão de existir, o que impõe a seus membros certos deveres de colaboração ou a abstenção de atos considerados prejudiciais aos interesses coletivos.
Nos dias atuais, não se pode imaginar uma sociedade sem disciplina, organização ou a definição de suas regras e normas. Portanto, todo agrupamento social possui sua própria disciplina, sustentada por normas jurídicas que, em conjunto, formam o que se denomina Direito social ou disciplinar desse grupo.
É crucial entender que as sociedades ou grupos humanos organizados se submetem a uma autoridade específica que valoriza o Direito, expressando-se para os indivíduos na forma de regras jurídicas ou normas de conduta. Essas normas jurídicas constituem um verdadeiro conjunto que, aglutinado, pode ser denominado de sistema jurídico, onde coexistem regras oriundas de diversas fontes.
No Brasil, um Estado complexo em sua estrutura, as normas jurídicas emanam de múltiplos focos, respeitando, evidentemente, as regras constitucionais que distribuem as competências entre as entidades políticas (União, Estados e Municípios).
É fundamental que os vereadores possuam um conhecimento básico sobre o Direito, uma vez que isso é uma de suas “ferramentas de trabalho”.
Para um bom desempenho na função parlamentar, é imprescindível que o Vereador conheça sua Constituição Federal, sua Lei Orgânica, sua Constituição Estadual e seu Regimento Interno, além de estar ciente de outras “leis” durante o exercício de suas funções.
A relevância do que foi mencionado se intensifica, pois o Vereador é responsável pela criação da lei municipal, define as regras de conduta no município e, essencialmente, elabora o direito municipal, estabelecendo direitos e impondo obrigações. Portanto, é crucial que ele tenha um entendimento claro de diversos temas do Direito.
É importante ressaltar que, embora o conhecimento das normas jurídicas seja essencial para qualquer indivíduo, essa importância assume uma dimensão ainda mais significativa quando se trata dos Legisladores municipais. Esses indivíduos, ao serem investidos da função de elaborar normas, têm suas responsabilidades multiplicadas, não apenas em termos normativos, mas também sociais.
Dessa maneira, o Vereador deve manter uma estreita relação com o Direito. Acreditamos que quanto mais próximo ele estiver do Direito, mais eficazmente cumprirá sua nobre tarefa.
A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA.
Mas, como o Vereador tem a capacidade de estabelecer o Direito no Município? Por que um grupo de pessoas, reunidas em um Corpo Legislativo (a Câmara Municipal), possui o “poder” de criar regras e impor obrigações aos cidadãos? As respostas a essas perguntas estão na análise da representação política, que é “o princípio jurídico pelo qual um ou mais indivíduos exercem o poder político ou participam de seu exercício em nome dos titulares desse poder, de modo que os atos dos representantes sejam considerados provenientes da autoridade dos representados”.
Como é do conhecimento geral, o poder da Nação reside no povo e dele emana, sendo exercido por meio de representantes (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal). Assim, o Vereador é diretamente reconhecido pela Constituição Federal como representante do povo, podendo agir em nome deste. Isso significa que o Vereador é dotado de autoridade e recebe uma fração do poder político através do mandato conferido pelos eleitores.
Teoricamente (embora na prática isso nem sempre se concretize), todos os atos do Vereador devem refletir fielmente a vontade do povo, podendo-se afirmar que a vontade do povo deve ser a própria vontade do Vereador. Portanto, deve haver, na representação política, sempre que possível, uma total fidelidade entre a vontade do representado e as ações do representante.
No Brasil, ao contrário do que ocorre em alguns países como os EUA, ainda não existe o mecanismo de recall, que permite a revogação do mandato de um parlamentar por um determinado número de votos de eleitores. Aqui, o mandato do Vereador é irrevogável, podendo ser perdido apenas em razão de hipóteses legais específicas. Assim, mesmo que haja descontentamento, o Vereador não terá seu mandato revogado apenas por suas ações. Isso é considerado por alguns como uma vantagem, pois confere ampla autonomia ao Vereador, permitindo-lhe liberdade total para opinar sobre todos os assuntos que lhe forem apresentados.
A eleição confere ao Vereador, que foi escolhido, um mandato político representativo, que é a base da democracia representativa. A Constituição atual, além desse mecanismo, também oferece ao cidadão meios de participar diretamente de algumas decisões, seja através de plebiscitos, referendos ou pela iniciativa popular. Isso caracteriza a chamada democracia participativa.
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A palavra “constituição” possui diversos significados. Em um sentido comum ou vulgar, pode se referir à maneira ou modo de ser de qualquer coisa. No entanto, o que nos interessa aqui é o sentido técnico e específico relacionado ao Direito. Assim, podemos afirmar que “constituição” é o documento que contém todas as regras fundamentais que disciplinam e definem a estrutura do Estado brasileiro.
A Constituição Federal, portanto, é o núcleo de todo o sistema jurídico. Todas as regras e normas jurídicas devem estar em conformidade com a Constituição Federal. As chamadas leis federais, estaduais e municipais devem respeitar integralmente os princípios da Constituição, que também é conhecida como Lei Maior, Carta Magna, Lei das Leis, entre outros termos.
É da Constituição Federal que todas as normas extraem sua base de validade. Por exemplo, uma lei municipal, para ser válida, deve estar em conformidade com os princípios constitucionais, que serão abordados oportunamente.
Para o Vereador, é crucial conhecer a Constituição do país, pois sua atuação está intimamente ligada ao que ela contém. Todos os assuntos discutidos na Câmara, sejam legislativos ou não, devem estar alinhados à Constituição, ressaltando a importância de seu conhecimento. Exemplos incluem a inviolabilidade dos Vereadores, sua remuneração, as competências da Câmara e a fiscalização das contas do Prefeito, que estão, antes de tudo, na Constituição Federal. Qualquer ato que contrarie as determinações constitucionais pode ser declarado inválido. Em termos simples, qualquer contradição entre a legislação local e a Constituição Federal pode caracterizar a inconstitucionalidade, um grave defeito que pode afetar o ato normativo.
O Vereador, em seu cotidiano, perceberá que sua função sempre estará delimitada pelas normas jurídicas, especialmente a Constituição Federal, que ele promete cumprir e respeitar ao assumir o cargo. Portanto, para garantir o respeito ao ordenamento jurídico e evitar a criação de leis inconstitucionais, bem como para efetivar os princípios maiores da Constituição Federal, o Vereador deve não apenas conhecer o texto da Lei Maior, mas também zelar pela realização de seu conteúdo através das normas que elaborar.
A ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO
A Constituição Federal estabelece que o Brasil adota a forma federativa de Estado. Desde o Decreto n. 01 de 15 de novembro de 1889, somos uma federação. Isso significa que nossa estrutura está fundamentada em três ordens distintas de poder: a União, os Estados e os Municípios, todos autônomos conforme a Constituição.
A União é, assim, o ente (pessoa política; pessoa jurídica de direito público interno) que representa a totalidade do Estado brasileiro. É ela que detém o monopólio das funções que dizem respeito ao interesse nacional. Por exemplo, apenas à União compete emitir moeda e declarar guerra ou celebrar a paz. Não faria sentido um Município querer declarar guerra a outra nação ou emitir sua própria moeda. Há tarefas que, por sua natureza, devem pertencer ao núcleo central do Estado.
Os Estados, corretamente denominados de Estados-membros, Unidades Federativas ou Unidades Federadas, também fazem parte da Federação brasileira. Esses entes (pessoas políticas e jurídicas) exercem a parcela de poder que a Constituição Federal lhes confere, o que se chama competência. Os Estados têm suas próprias atribuições, que estão claramente definidas na Constituição. Cada Estado possui uma organização interna própria e uma Constituição Estadual, conforme determinada pela Constituição Federal. É na Constituição Estadual que encontramos as regras básicas que definem a estrutura de um Estado específico.
Os Municípios, por sua vez, ocupam uma posição de destaque na Federação brasileira. É interessante notar que a situação do Município no Brasil é única, já que, em outros países, não se observa algo semelhante. Aqui, o Município é reconhecido como uma pessoa política autônoma, equiparada aos Estados e à União. A soma de todos eles forma a Federação. A Constituição Federal garante que não há subordinação entre as entidades políticas, de modo que o Município não é inferior ao Estado, nem está em posição de inferioridade. Contudo, deve-se mencionar que, embora a Federação brasileira reconheça o Município como um ente autônomo, ainda não se estabeleceu plenamente sua posição no cenário nacional.
As observações feitas sobre a União, os Estados e os Municípios visam esclarecer que, no Brasil, em virtude da Constituição Federal, existem três focos ou ordens distintas de poder. Cada uma dessas entidades políticas possui áreas de atuação definidas, sem que haja hierarquia entre elas. Assim, convivem no Estado brasileiro a União, os Estados e os Municípios, todos com suas próprias autonomias.
Autonomia é a capacidade de gerir e administrar seus próprios assuntos. Essa divisão é estabelecida pela Constituição Federal, que define as atribuições de cada ente federativo. Para reforçar a ideia da inexistência de subordinação entre entidades políticas, considere-se que um veículo oficial da União, ao trafegar por um Município, deve respeitar todas as regras de trânsito locais. Da mesma forma, a União não pode conceder isenções sobre impostos pertencentes ao Município. Existem muitos exemplos que evidenciam que cada ente político possui sua própria esfera de atuação, e a interferência de um sobre o outro constitui uma violação da autonomia mencionada.
A ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
Na Constituição Federal, encontramos a “tripartição do poder”, que fundamenta as existências do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Neste contexto, nos interessa, por ora, o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é responsável, primordialmente, pela elaboração de leis. Embora não seja sua única função, pois ele também julga e administra, sua atividade principal é legislativa. Atualmente, especialmente em virtude da nova Constituição, o Poder Legislativo recuperou suas funções, readquirindo sua identidade original que, em tempos passados, estava desfigurada. O Poder Legislativo municipal, representado pela Câmara de Vereadores, está mais próximo da verdadeira democracia, devido à proximidade entre seus membros e os cidadãos. Cada Poder tem sua função principal: o Executivo administra, o Judiciário aplica a lei aos casos concretos e dá a palavra final sobre o Direito, enquanto o Legislativo cria as normas. No entanto, como mencionado, os Poderes desempenham funções pertencentes uns aos outros dentro dos limites permitidos pela Constituição, funcionando como um mecanismo de controle mútuo. Por exemplo, o Poder Legislativo fiscaliza as contas do Poder Executivo (no caso do Município, a Câmara de Vereadores aprova as contas do Prefeito). Por outro lado, o Poder Executivo pode interferir na elaboração da lei, podendo vetar projetos aprovados pelo Poder Legislativo.
A ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
A estrutura do Estado brasileiro, por adotar a forma federativa (item 4), confere ao Município sua própria organização. Todas as entidades políticas (União, Estados e Municípios) possuem suas estruturas internas. O Município, conforme disciplina a Constituição, se organiza e rege por meio de sua Lei Orgânica. É nessa legislação que se estabelecem e preveem as funções do Poder Executivo e do Poder Legislativo, cada um com suas respectivas atribuições. É importante ressaltar que, no âmbito municipal, não existe um Poder Judiciário próprio; este é exercido pelo Estado, embora o Judiciário esteja situado no Município. Assim, o governo municipal se baseia na dupla capacidade de autolegislação e autogoverno.
Na esfera municipal, a função executiva é exercida pelo Prefeito, que é o Chefe do Executivo, enquanto a função legislativa é realizada pela Câmara de Vereadores, que representa os cidadãos. O inciso I do artigo 29 da Constituição Federal deve ser lido em conjunto com o artigo 2º dessa mesma Constituição. O primeiro estabelece que o Município organizará seus “poderes” em sua Lei Orgânica, mencionando a eleição do Prefeito e dos Vereadores. O segundo estabelece que os “poderes” da União (Legislativo, Executivo e Judiciário) são independentes e harmônicos. Isso significa que, no Município, os poderes também são independentes, mas harmônicos, seguindo as regras segundo as quais um poder “fiscaliza e freia” o outro. O Prefeito, por exemplo, pode vetar ações dos Vereadores ao rejeitar um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal. Os Vereadores, por sua vez, fiscalizam o Prefeito ao avaliar suas contas.
A CÂMARA MUNICIPAL. ASPECTOS INICIAIS
A Câmara de Vereadores, enquanto órgão do Poder Legislativo local, tem suas atribuições estabelecidas na Lei Orgânica. É importante mencionar que a Câmara Municipal possui total independência em relação ao Prefeito, não havendo entre eles qualquer relação de submissão, seja administrativa ou política. Existe, ao contrário, um entrosamento e inter-relação entre esses dois órgãos. Portanto, no Município, a regra da Constituição Federal de que os Poderes são independentes e harmônicos se aplica.
Atualmente, não se utiliza mais a expressão “posturas municipais” para referir-se às leis criadas pela Câmara de Vereadores. Essa expressão, que estava em desuso, designava a atividade de elaborar leis. Hoje, essas normas são simplesmente chamadas de leis municipais.
Ao abordar a Câmara Municipal, a primeira observação a ser feita refere-se ao próprio Município, que é uma entidade de governo, assim como a União e os Estados. Assim, a Câmara Municipal é a fonte criadora do direito local. Não existe hierarquia entre a atividade da Câmara Municipal e a da Assembleia Legislativa do Estado ou do Congresso Nacional. A Câmara Municipal, ao criar o direito no âmbito municipal, está apenas exercendo a competência legislativa atribuída pelo Município pela Constituição Federal. Portanto, se as funções do Município são exercidas com autonomia, o mesmo se aplica à atividade da Câmara local. O VEREADOR. GENERALIDADES
O Vereador é membro da Câmara Municipal. Ele é o “legislador” e o representante dos cidadãos. Também é conhecido como edil, um termo que remete à Roma Antiga. A palavra “vereador” deriva do verbo “verear”, que significa “a pessoa que vereia”, ou seja, aquele encarregado de zelar pelo bem-estar e tranquilidade dos Municípios. Embora atualmente esse significado não se mantenha, é correto afirmar que, em última análise, o que os cidadãos desejam por meio de seus representantes é o cumprimento desses objetivos.A função do Vereador, nos dias de hoje, é de grande relevância, e essa tendência tende a aumentar, pois as responsabilidades atribuídas ao Município estão em crescimento. Nos últimos anos, observou-se uma descentralização das funções do Estado brasileiro, com muitas atividades sendo transferidas para a esfera municipal. O Poder Central há muito não consegue atender a essas demandas, e a solução tem sido descentralizar. Dessa forma, as incumbências são repassadas aos Municípios, que enfrentam novas situações e, para resolvê-las, precisam de regras, que são elaboradas pela legislação local, passando pelo crivo da Câmara Municipal e do Vereador.Entretanto, a atividade do Vereador está sujeita a normas jurídicas. Ele está subordinado a um verdadeiro estatuto que contém regras que derivam da Constituição Federal e de outros documentos, como o Regimento Interno da Casa Legislativa local. Esses aspectos serão abordados em momento oportuno.
AS LEIS EM GERAL
Podemos afirmar que a lei é, sem dúvida, a fonte primária do Direito. Para alguns, a palavra lei vem do verbo “ligare”, que significa “aquilo que liga, obriga, vincula”. Outros argumentam que a origem do termo está no verbo “legere”, que significa “aquilo que se lê”. O importante é ter consciência de que o conceito de lei é bastante amplo. Existem, portanto, leis da natureza, leis morais e também as leis jurídicas. Embora as leis morais estejam intimamente relacionadas com as leis jurídicas, não são idênticas, pois não possuem a mesma sanção nem os mesmos fundamentos. As leis naturais, como as leis da física, diferem bastante da lei jurídica. Estas últimas estabelecem normas que orientam como as coisas devem ser, enquanto as leis naturais descrevem fenômenos como realmente são.
Assim, nas leis naturais, as coisas “são”, enquanto nas leis jurídicas, as coisas “devem ser” de uma determinada maneira. Assim, a lei jurídica é definida como um preceito (ou norma) comum e obrigatório, produzido por um poder competente, e que possui sanção e coercitividade. A lei é comum, no sentido de que se aplica a todos. Não é criada apenas para alguns, mas para todos. Há quem afirme que “ou a lei se aplica a todos, ou não se aplica a ninguém”. O preceito é também obrigatório, uma vez que impõe uma ordem, não sendo um convite ou uma teoria, e não é lícito a ninguém evadir-se de seu comando, desde que se enquadre na hipótese para a qual foi destinada. Assim, uma vez que alguém se torna destinatário de uma determinada lei, não pode escapar de sua imposição.Para ser considerada uma verdadeira lei, esta deve ser elaborada por um poder competente e de acordo com as regras estabelecidas para tanto. Ou seja, se a lei é proveniente de um órgão incompetente, não vincula ninguém. A Constituição Federal, sendo a Lei Maior, estabelece tais atribuições e competências. AS LEIS MUNICIPAIS
Tudo o que foi discutido anteriormente sobre as leis em geral se aplica igualmente às leis municipais, pois não há diferença substancial entre elas e outras leis, exceto pelo seu campo de incidência. Em outras palavras, a lei municipal é um preceito obrigatório e comum, emanado da Câmara de Vereadores e que possui sanção.
A lei municipal tem a mesma estrutura que qualquer outra lei de diferentes esferas de poder. É interessante notar que, em tempos não muito distantes, negava-se ao Município a capacidade de criar suas próprias leis, o que trazia uma série de implicações práticas, inclusive em relação à inviolabilidade do Vereador, que será discutida adiante. Portanto, a lei municipal não é inferior à lei estadual ou federal. Na verdade, cada um desses tipos de leis possui um campo específico e próprio de aplicação, sendo tais campos inconfundíveis. As leis municipais são obrigatórias até mesmo para os outros entes políticos. Por exemplo, se a União decidir construir um edifício em um Município “X”, deverá observar toda a legislação urbanística desse local, o mesmo se aplicando ao Estado. Da mesma forma, se um veículo da União ou do Estado quiser circular nas ruas do Município “X”, terá que respeitar a sinalização e as normas de tráfego estabelecidas pelo Município.
Isso demonstra que não existe hierarquia entre as entidades políticas e suas leis, pois cada uma delas possui, como mencionado, uma área específica de atuação legislativa. Não se deve pensar que as noções apresentadas sobre a autonomia legislativa municipal pertencem apenas a discussões acadêmicas. Em várias ocasiões, esse tema já foi objeto de apreciação pelos tribunais, como no seguinte caso: “Na ordem nacional não há relação hierárquica entre a União, os Estados e os Municípios. Essas três entidades recebem seus direitos e deveres diretamente da Constituição, dentro de suas respectivas áreas de atribuição. Cada esfera de governo é capaz de produzir normas e todas possuem força coercitiva” (Ap. 163.721-1/4, de 8/4/92, do TJSP, 8ª Câmara Cível, rel. Des. Jorge Almeida).
No caso concreto, discutiu-se em juízo a (in)constitucionalidade de uma lei paulista que impôs multas a estacionamentos em vias públicas. A questão urbanística se sobressai em grandes cidades, como a considerada, evidenciando a necessidade de disciplina pela legislação local para melhorar a vida dos cidadãos. A regulamentação da política urbana, que inclui a ocupação de calçadas por pedestres, cabe ao Município disciplinar (art. 182 da CF).
Exemplos como esses são numerosos. A estrutura do Estado brasileiro (federação) é curiosa ao considerar que tanto a União quanto os Estados e os Municípios estão habilitados a legislar. O cidadão se encontra em uma situação, no mínimo, interessante, pois deve obedecer simultaneamente às leis da União, do Estado e do Município. Contudo, é sabido que cada ente político legisla sobre assuntos específicos. Às vezes, há sobreposição de legislações sobre um mesmo tema, mas isso não gera conflitos, pois a Constituição Federal, ao realizar a “distribuição constitucional de competências legislativas”, permite essa situação.
A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
A Lei Orgânica do Município assume um papel de extrema importância. O Estado brasileiro possui a Constituição Federal, os Estados-membros têm suas constituições estaduais e os Municípios, por sua vez, dispõem de suas Leis Orgânicas, que podem ser comparadas aos documentos mencionados anteriormente, sendo a Lei Orgânica frequentemente chamada de Constituição Municipal. Não é exagero afirmar isso. A Constituição Federal designou a Lei Maior no âmbito municipal como Lei Orgânica, mas não há diferença substancial em relação aos documentos das outras entidades políticas.
Antes da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, os Municípios eram regidos pelas Leis Orgânicas estabelecidas pelos Estados-membros. Com a nova Constituição, passou-se a exigir que os Municípios elaborassem suas próprias Leis Orgânicas.
Embora não seja tarefa simples apontar o conteúdo básico da Lei Orgânica municipal, podemos afirmar que a própria Constituição Federal nos dá uma ideia do que deve ser incluído. De fato, na Lei Orgânica de qualquer Município, encontram-se as regras (para aquele Município) sobre a eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, as proibições e incompatibilidades no exercício do cargo, o julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça, a organização dos Poderes locais (Poder Legislativo e Poder Executivo), a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, entre outros assuntos.
Sendo a Lei Maior na esfera do Município, a Lei Orgânica deve ser bem conhecida pelo Vereador, pois ela é seu material e ferramenta de trabalho no cotidiano. Outros aspectos da Lei Orgânica serão abordados oportunamente. A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
Os Estados (Unidades Federativas ou Estados-membros) também possuem autonomia e, por isso, devem se auto-organizar. Eles legislativamente se auto-regulam (através da Assembleia Legislativa) e se auto-administram (Poder Executivo Estadual). A Constituição Federal estabelece que “os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição”. Assim, na esfera do Estado, há um poder que lhe permite elaborar sua própria Constituição, denominado “poder constituinte decorrente”, que, evidentemente, é limitado pelas normas da Constituição Federal. Como a Constituição Federal não especifica quais princípios a Constituição Estadual deve seguir, é o especialista em Direito que assume essa responsabilidade.
Existem princípios que são facilmente identificáveis, além das regras que revelam a matéria de organização política, social e econômica (por exemplo, o Estado-membro não poderia adotar a forma parlamentarista, uma vez que a Federação se estrutura sob o regime presidencialista).Como os Municípios estão inseridos dentro de um determinado Estado, embora não haja submissão entre eles, muitas normas de organização estadual também se aplicam aos Municípios, sendo, portanto, vital para o Vereador conhecer a Constituição do seu Estado. A Constituição Federal estabelece certos princípios que devem ser obrigatoriamente adotados pelos Estados. Aqueles mencionados no artigo 34, VII, “a” a “d”, devem ser respeitados, com a possibilidade de intervenção federal no Estado em caso de violação. Tais normas asseguram os seguintes princípios: a forma republicana, o sistema representativo e regime democrático, os direitos humanos, a autonomia municipal e a prestação de contas na administração pública, direta ou indireta.
Existem também outros princípios da Constituição Federal que devem ser seguidos pelas Constituições dos Estados, como, por exemplo, aqueles que se referem à magistratura (arts. 93, I a XI e 95) ou à separação de poderes (art. 2º), entre muitos outros.
RESUMO CONCLUSIVO
A atividade do Vereador está intimamente ligada ao Direito, o que torna necessário que ele possua algumas noções sobre o tema.
Antes de mais nada, o Vereador deve ter em mente que é um representante político não apenas dos que o elegeram, mas também de todos os munícipes. Sua atividade, na realidade, reflete a vontade do povo. Como o povo, muitas vezes, não pode atuar diretamente em seu próprio nome, certas pessoas são escolhidas para representá-lo.
A Constituição Federal afirma: “todo poder emana do povo e em seu nome será exercido”. Assim deve ser, pois o Vereador detém um mandato político representativo, que é a base da democracia representativa.
O Direito envolve a organização do Estado brasileiro, que é complexa. É essencial compreender que o Estado brasileiro adota a forma federativa, onde coexistem três ordens distintas de poder político: a União, os Estados e os Municípios. Todos são autônomos, e não há hierarquia ou submissão entre eles.
No que diz respeito à organização dos “Poderes”, o Brasil adota o modelo tripartido, que é composto pelo Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. Ao traçar um paralelo entre a estrutura do Estado brasileiro e a organização dos Poderes, podemos observar que cada ente político possui sua própria organização (por exemplo, a União tem seu Legislativo, Executivo e Judiciário, o mesmo ocorrendo com os Estados).No Município, também se aplica a regra da separação dos Poderes, mas restrita ao Legislativo (Câmara de Vereadores) e Executivo (Prefeito), pois não existe um Poder Judiciário próprio nesse nível. O Poder Judiciário que atua no Município é estadual.
A Câmara Municipal, composta por Vereadores eleitos pelo povo, tem a responsabilidade de elaborar leis (função legislativa), tomar decisões (função deliberativa), fiscalizar (função fiscalizadora) e julgar (função julgadora). Não é possível afirmar que a atividade principal da Câmara seja uma ou outra. Na verdade, a tarefa do Legislador Municipal é o resultado da soma de todas essas funções. É relevante elaborar leis? Sem dúvida. Contudo, é igualmente importante avaliar politicamente o Prefeito, controlar suas contas e auxiliar nos rumos políticos do Município.
O Vereador representa o povo no Município, sendo eleito por ele. Sua função, como mencionado, ganha importância a cada dia, uma vez que as responsabilidades atribuídas ao Município estão aumentando proporcionalmente com o tempo. Uma das funções da Câmara é a elaboração de leis. Portanto, é essencial compreender a natureza da lei. Conceitualmente, a lei pode ser considerada um preceito (ou norma) comum e obrigatório, elaborado por um poder competente, que possui sanção e coercitividade.
No que diz respeito à lei municipal, ela não difere significativamente das demais leis, podendo ser entendida como um preceito obrigatório e comum, emanado da Câmara de Vereadores e que possui sanção. Isso significa que, para ser considerada uma lei municipal, o ato deve ser originado da Câmara Municipal, contar com a participação do Prefeito em sua elaboração e seguir os trâmites legais estabelecidos. Se faltar qualquer um desses requisitos, não se pode considerar que estamos diante de uma lei.
Não se deve confundir a lei municipal com a Lei Orgânica do Município. A primeira resulta da atividade ordinária da Câmara de Vereadores. Já a Lei Orgânica do Município baseia-se no chamado “poder constituinte municipal”, ou seja, a Constituição Federal determina que o Município deve elaborar sua Lei Orgânica por meio de seus Vereadores. Atualmente, todos os Municípios brasileiros já cumpriram essa obrigação, que foi uma tarefa especial, distinta da atividade cotidiana da Câmara. Isso não significa, no entanto, que a Lei Orgânica não possa ser alterada, pois existem mecanismos para sua modificação (por meio de emendas).O Estado, que abriga o Município, que é autônomo, possui um documento de auto-organização: sua Constituição Estadual, que deve observar os princípios da Constituição Federal. Dado que há preceitos que se referem diretamente aos Municípios em seus limites geográficos, é valioso que o Vereador tenha conhecimento dessa Constituição.
Guaranésia, 03/05/2005
Milton Biagioni Furquim